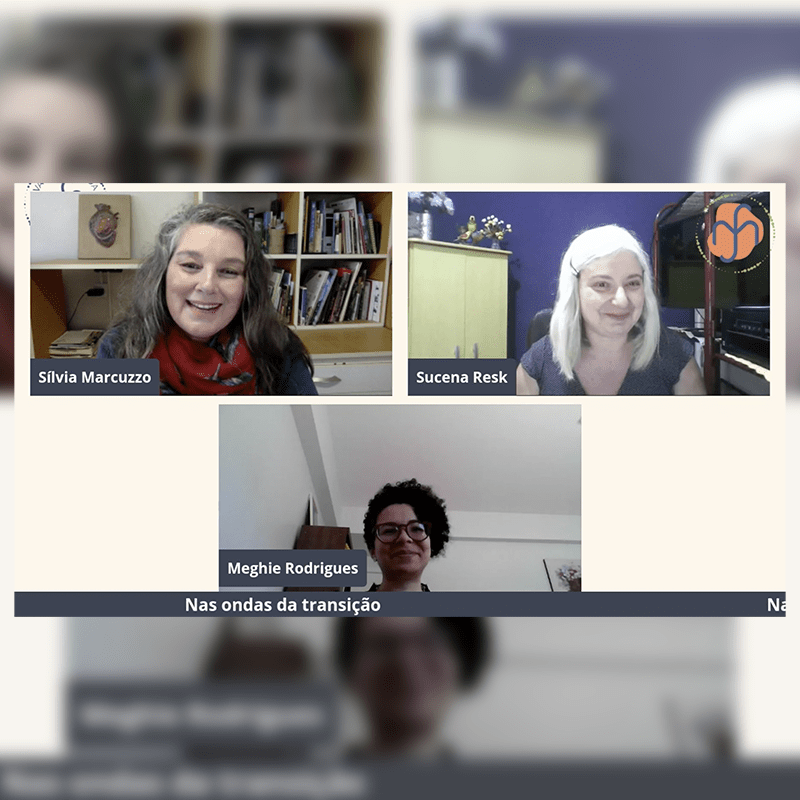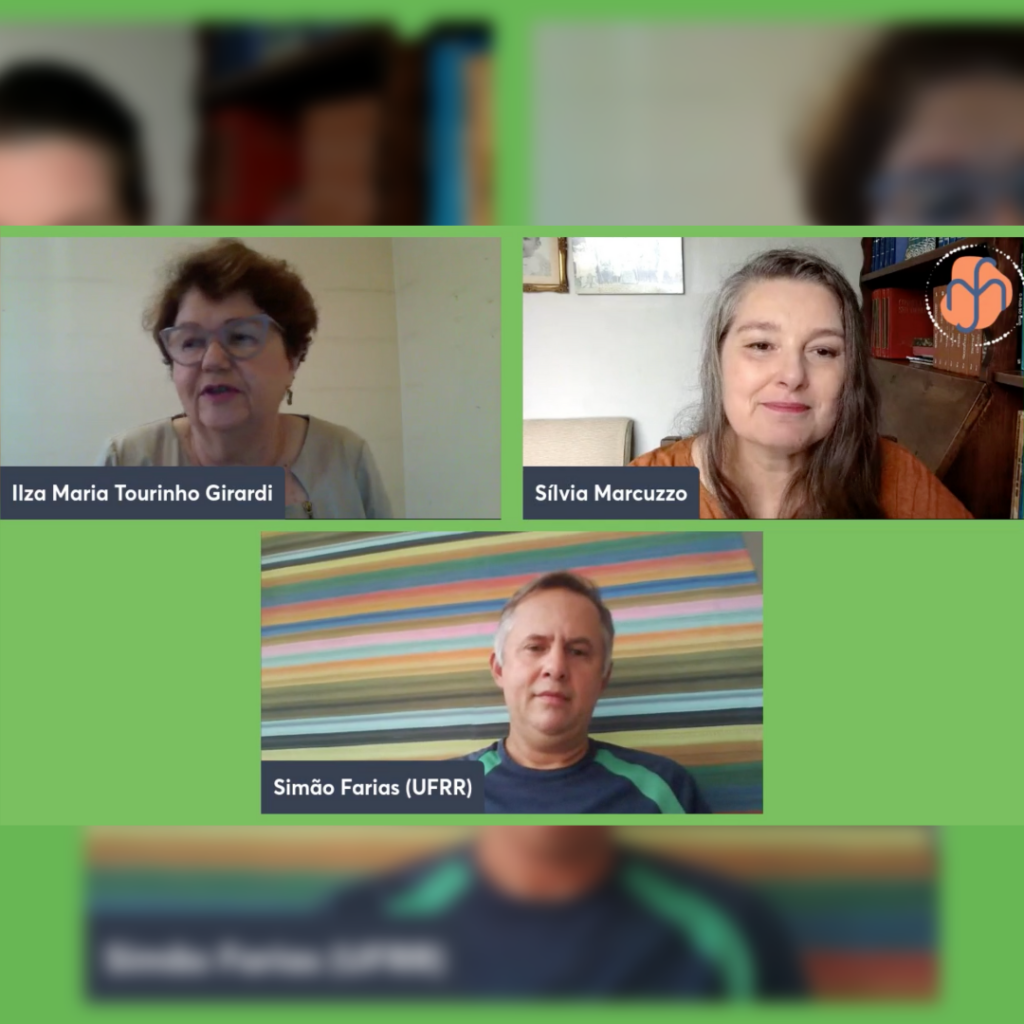O romance de Vianna Moog, da década de 1930, merece ser lido nesses tempos de pós-verdade
Nos últimos 15 dias, devido a uma sinusite entre outras coisas, fui obrigada a parar. E em meio ao bombardeio a que me submeto todos os dias: mensagens no WhattsApp, postagens em redes sociais, leitura de notícias, vídeos no YouTube, lives entre tantas outras formas de receber informação, li numa tacada o livro o ‘O rio que imita o Reno’, de Vianna Moog.
O romance escrito no final da década de 30 do século passado, se desenrola na Blumental, uma cidade ficcional colonizada por alemães, merece ser lido por quem quer entender um pouco mais sobre o nosso atual momento. A obra do ilustre leopoldense, filho de mãe de descendência portuguesa com pai de origem alemã, traz à tona tantas coisas que remetem a situações que parecem que estavam guardadas debaixo do tapete da história. O livro pode ser encarado como peças de um quebra-cabeças que podemos montar para entender o atual contexto, mesmo tendo sido escrito quase um século atrás.
Na apresentação, o professor Luís Augusto Fischer destaca a relevância da obra que em menos de um mês da publicação, teve sua a primeira edição de cinco mil exemplares esgotada. O conteúdo do livro sacudiu os ânimos de muita gente, inclusive da embaixada da Alemanha no Brasil – naquele tempo orientada pelo nazismo – que pediu a apreensão dos volumes. Ainda foi produzida uma versão radiofônica. Como pano de fundo, o clima pré-Segunda Guerra, a ascensão de Hitler, entre outros ditadores, como Mussolini, na Itália, e Franco, na Espanha. O autor evidencia o quanto a ideologia da superioridade de uma raça estava entranhada no Brasil.
Não vou dar spoiler da história. É um romance lindo e do tempo que as paixões avassaladoras eram alimentadas por olhares, muitos pensamentos e poucas ações. E também, é claro, tudo é permeado pela escassez de possibilidades de se comunicar. O enredo me tocou por vários motivos, mas principalmente porque as cenas narradas me transportavam para os ambientes onde transitei em Cachoeira do Sul, minha terra natal. Além, é claro, de ter uma narrativa que parece estar se repetindo em pleno século XXI.
Terminei o livro achando que sou uma representante daquele contexto pintado pelo Vianna Moog. Nasci em uma cidade do interior que tem demonstrado faces de uma realidade paralela. Mas, na boa, nem precisa ir muito longe. Cachoeira não está sozinha nesse contexto, nas cidades grandes há gente que ainda está protestando na frente dos quarteis. E a lógica para essas manifestações se manterem é o bombardeio de fake news e discursos que convencem que há uma conspiração, fraudes etc. E é praticamente impossível convencer alguém desse grupo a mudar de ideia. É a tal dissonância cognitiva, alertam os psicólogos e psiquiatras.
Só que as notícias de descobertas de grupos neonazistas nos estados do Sul, protestos inconcebíveis pouco tempo atrás, promovem um mal-estar, pra dizer o mínimo, que gera ansiedade, inquietações, deixa muita gente que sabe o significado disso muito mal. Em mim, gera tantos desconfortos que ouso tentar manifestar por aqui meu dessossego. E ao acompanhar minimamente as notícias de cidades do interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vejo o quanto aquela atmosfera do livro paira hoje, com algumas nuances diferentes.
O ambiente onde cresci teve uma fortíssima influência de descendentes de imigrantes alemães e italianos. E, é claro, ouvi boa parte da vida o quanto a imigração desses europeus foram responsáveis pelo desenvolvimento, pela “evolução’ do Brasil. Em Cachoeira do Sul, boa parte da economia e das rodas da sociedade girava em torno dos descendentes de alemães. Há um episódio do livro que ocorre em um bolão (hoje chamam de boliche) no clube Ginástica. A cena narrada me transportou imediatamente para as dependências da Sociedade Rio Branco.
Meu lugar de fala é de alguém que conviveu e convive com pessoas que até hoje pensam assim. Não posso e nem tenho como explicar todos os meandros desse contexto, do porquê chegamos ao ponto que chegamos. Mas ao ver postagens de conterrâneos, de gente que sei de onde vem, percebo o quanto os estados do Sul têm um terreno mais fértil para vingar esse tipo de pensamento.
Sou grata à minha mãe que sempre me estimulou a conhecer e transitar em mundos bem diferentes. Enquanto convivia com amigos do Colégio Rio Branco, onde adorava frequentar os kerbs, os concertos, também andava com gente de outras realidades. E aí, percebo hoje que ter feito Magistério na Escola Estadual João Neves da Fontoura foi algo decisivo para eu ser quem eu sou. Na escola pública, tive o privilégio de ampliar meus horizontes. A aura daquela década de 80 era que realmente os que circulavam entre a comunidade alemã eram superiores aos demais da cidade.
Minha angústia é tipo um sofrimento por tabela. Porque essa aura de superioridade foi introjetada dentro de quem cresceu naquele jet set. Tenho pele clara, sou filha de uma professora, descendente de alemães e portugueses que saiu da Capital para o interior. Meu pai passou por muita coisa para chegar até o posto de fiscal do Ministério do Trabalho. Ou seja, minha condição privilegiada não fez com que eu sentisse o peso de ser diferente.
Só que hoje a realidade é bem mais complexa. O ser diferente deles hoje representa uma ameaça, pois o que eram os negros, os “escurinhos” de ontem, hoje são ambientalistas, ativistas, gente que atua no oposto do que eles preconizam. Vale lembrar que a escolha de bodes expiatórios faz parte da estratégia. Taí o STF que não me deixa mentir.
E, no meio disso tudo, quem precisa conviver em ambientes com essas características, em muitos casos, a solução é se isolar. “É preciso ter uma consciência de que muitos temas não podem ser tratados, são proibidos. Não há condição de entrar em um diálogo, um debate, de construir um pensamento. A gente tem que aprender a conviver com esse tipo de coisa, é muito complicado”, revelou Miriam Prochnow, fundadora da Associação de Preservação do Meio Ambiente (Apremavi). A sede da organização fica em Atalanta, no Alto Vale do Rio Itajaí, em Santa Catarina.
Ela lamenta ainda o quanto isso afeta o trabalho da organização. “É preciso usar outras formas de chegar nas pessoas. Também tenho convivido com gente que tem medo de entrar em determinados temas, porque as pessoas não sabem o que as outras pessoas vão pensar. Aí vão tateando, até descobrir o que a outra pessoa pensa. E aí quando a gente se sente em um grupo seguro, todo mundo fica mais relaxado, ufa. Isso é muito ruim para a sociedade como um todo. Acho que a gente perdeu a confiança na humanidade,” comenta Miriam, pouco antes de embarcar para a Alemanha.
Confesso que preciso aprender a lidar melhor com esse incômodo de perceber o quanto o mundo já deu voltas e ainda há gente com certezas derrubadas há muito tempo. Mas, antes de mais nada, quero ressaltar que só consegui ler esta obra, porque ela foi reeditada sob o selo Meridionais, do Instituto Estadual do Livro. Foi impressa pela finada Corag em 2005. Ganhei de presente da minha amiga Marta, que comprou na feira do livro de Porto Alegre este ano.